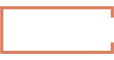Marcelo Augusto Rodrigues de Lemos
O ANPP (Acordo de Não Persecução Penal) existe no Brasil desde 1995, ano em que entrou em vigor a Lei n.º 9.099. Naquele diploma legal, introduziu-se no ordenamento jurídico brasileiro a transação penal e a suspensão condicional do processo. A característica dos dois institutos, porém, são distintas do modelo de plea bargaining oriundos do common law. Na referida lei brasileira, a confissão é desnecessária. A importância da estrutura do Direito anglo-saxão na confecção da Justiça Penal negociada em terrae brasilis é inegável, como já mencionamos nesta coluna[1].
Mais recentemente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pelo “pacote anticrime”, houve por expandir as hipóteses de negociação. O acordo de não persecução penal também possibilita o acordo em casos de crimes de médio potencial ofensivo.
É em relação a esse instituto em particular que iremos nos ater nesse ensaio, a partir dos seguintes questionamentos:
- O ANPP constitui direito subjetivo do investigado?
- Considerando que o legislador estabeleceu requisitos para a formulação do acordo, é possível que o Ministério Público se recuse a propor a avença sem uma justificativa idônea e juridicamente fundamentada?
Indubitavelmente, as questões postas dialogam com a Crítica Hermenêutica do Direito e é sob esse olhar que se analisará a interpretação do art. 28-A do Código de Processo Penal e o papel do Ministério Público na propositura do ANPP.
Dias atrás, o Presidente da República indultou um condenado pelo Supremo Tribunal Federal interpretando a Constituição de forma literal, contrariando os seus próprios princípios fundantes e ignorando a concepção de norma e de ordenamento jurídico.
O decreto presidencial – absolutamente inconstitucional – é um exemplo sobre como não interpretar um dispositivo. Evidentemente que esse não passa por um filtro hermenêutico-constitucional, inclusive porque esbarra em, ao menos, uma das seis hipóteses desenvolvidas por Streck para não se aplicar um dispositivo, mais especificamente na seguinte: não se aplica uma regra quando ela confronta um princípio e, no caso, foram vários, notadamente a impessoalidade, moralidade e interesse público, positivados no texto constitucional (art. 37, CF)[2].
E como essa situação atentória ao Estado Democrático de Direito dialoga com a questão posta na coluna de hoje? A partir do fato de que absolutamente nada em uma democracia pode ser discricionário e não levar em conta a tradição epistemológica do fenômeno e a ideia de norma como parte de um ordenamento. A situação do decreto presidencial, porém, é semelhante ao decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (Agravo Regimental em Habeas Corpus n.º 191.124), em que se assentou, em miúdos, que o Ministério Público pode se recusar a propor o ANPP e que tal negativa não pode ser objeto de revisão judicial.
Ronald Dworkin já assentara que o juiz tem responsabilidade política, o que equivale dizer que este deve decidir por meio de argumentos de princípio[3]. O Ministério Público, como já referiu Streck, por ter as mesmas garantias da magistratura e importância ímpar no contexto de um Estado Democrático de Direito, também possui responsabilidade política, sendo defeso ao membro do Parquet agir por estratégia e, fundamentalmente, não motivar as suas decisões[4].
O art. 28-A dispõe que o agente ministerial pode se negar a propor o acordo, caso compreenda que a avença não se prestaria à reprovação e prevenção do ilícito criminal. Contudo, isso não importa dizer que essa regra deve ser lida sem dialogar com o paradigma constitucional de 1988. A distinção entre regra e princípio é ilustrada por Dworkin a partir do caso Riggs vs Palmer, de 1889. No caso, discutia-se o direito à herança de um neto que matou o avô. O homicida pleiteava o reconhecimento do seu direito como herdeiro, já que constava no testamento. Evidentemente, o neto não recebeu a herança, a despeito de a regra permitir a concessão, com fulcro no princípio de que nenhum indivíduo pode lucrar com seus próprios atos ilícitos.
Nesse sentido, a regra caracteriza-se por ser o tudo ou nada, ou ela é válida ou não é, ao passo que os princípios conduzem o raciocínio jurídico em uma determinada direção, demandando, porém, uma decisão particular. Caso os princípios sejam dotados de relevo, devem ser levados em consideração pelas autoridades públicas. Para Dworkin, os princípios atuam de maneira muito mais vigorosa em casos difíceis. Nestes, os tribunais utilizam os princípios para justificar a adoção de uma nova regra. Princípios, portanto, não prescrevem um resultado, mas sim inclinam a decisão em uma direção de modo não conclusivo[5].
Nessa ótica, em face da necessidade de observância de direitos fundamentais do indivíduo – como o direito a uma resposta constitucionalmente adequada e o direito à liberdade de ir, vir e ficar –, não procede a assertiva de que o membro do Ministério Público possa se negar a propor o ANPP, com amparo somente na vaga concepção de que o acordo não seria suficiente e necessário para a reprovação do crime sem, entretanto, explicitar juridicamente os fundamentos que conduzem a essa intelecção.
Voltando à decisão da Primeira Turma do Pretório Excelso, no decisum assentou-se que – à luz de um novo sistema acusatório – o princípio da obrigatoriedade da ação penal teria sido substituído por um novo regime de discricionariedade mitigada que possibilita, presentes os requisitos legais, a relativização da obrigação de promover a ação penal pública e, nesse norte, chegar a um consenso com o investigado. Pontuou-se, ainda, que o ANPP não se caracteriza como um direito subjetivo e, por isso, não comporta revisão judicial. A última palavra será sempre, portanto, do Ministério Público, que poderá se negar a propor o acordo mesmo que presentes os pressupostos insertos na lei.
A justificativa se dá no sentido de que, em alguns casos, o Parquet poderá compreender que o acordo não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado, com fulcro em critérios desenvolvidos pela própria instituição. Vimos, no passado, como o estabelecimento de poderes ilimitados a membros do Ministério Público pode enfraquecer o regime democrático e facilitar a instrumentalização do Direito. A operação “lava jato” é um bom exemplo de como o Poder Judiciário pode atuar para desestabilizar a democracia. Foi por meio de delações premiadas direcionadas que, ao depois, foram anuladas (isto é, nos novos espaços de consenso do processo penal), que a referida operação influenciou diretamente no processo eleitoral brasileiro[6].
Sobre a ideia de constituir – o ANPP – direito subjetivo prima facie, é razoável conceber que, de fato, não o é. O conceito de direito subjetivo pode ser caracterizado pelo fato de que o ordenamento jurídico, além de conferir soluções abstratas aos conflitos de interesse (direito objetivo), também atende ao interesse de um indivíduo em sentido subjetivo. Essa conceituação, que é proposta por Ribeiro, também pode se fragmentar em outras duas previsões: direito subjetivo mediato e imediato. Quanto ao primeiro, este depende de uma decisão judicial, de modo que somente vai passar a existir a partir de uma declaração jurisdicional. O segundo é aquele direito que existe independentemente de uma sentença e que não afeta a esfera jurídica de outrem. Os mediatos são disponíveis e negociáveis, ao passo que os imediatos são indisponíveis, inegociáveis e personalíssimos[7].
Conceber o ANPP como direito subjetivo prima facie do investigado resultaria em violação ao sistema acusatório e, inclusive, seria antitético, já que nada impediria que a avença, presentes os requisitos, poderia ser proposta diretamente pelo juiz, usurpando a competência do agente ministerial. O que se pode aferir, no entanto, é que não há um direito subjetivo imediato, senão um direito à motivação juridicamente idônea para a não proposição do ANPP.
Inexistindo esse dever de accountability do Ministério Público, o juiz pode e deve intervir em favor do investigado, inclusive, como exercício da sua função de assegurar o máximo de proteção de direitos do indivíduo[8] e isso, em nada, ofenderia ao postulado acusatório. Nada, em um contexto democrático, pode ser discricionário e não dialogar com o paradigma constitucional. O ordenamento, a ideia de Direito como um sistema de regras e princípios, não legitima decisões que não contenham sentido estritamente jurídico. Ou seja, o Presidente da República não pode indultar alguém sem uma legítima fundamentação, o juiz não pode proferir decisões a partir de suas convicções pessoais e o Ministério Público não pode agir por estratégia e não motivar adequadamente as suas ações.
Para tirar suas dúvidas sobre este e outros temas jurídicos, entre em contato com nossa equipe.
[1] Veja-se em: https://www.conjur.com.br/2021-jul-03/diario-classe-influencia-eua-acordos-penais-brasileiros .
[2] Verbete Resposta Adequada à Constituição (resposta correta). STRECK, Lenio Luiz. Dicionário de hermenêutica: cinquenta temas fundamentais da teoria do direito à luz da crítica hermenêutica do Direito. Belo Horizonte (MG): Letramento: Casa do Direito, 2020.
[3] DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. 3 ed. – São Paulo: Martins Fontes, 2019.
[4] A propósito, veja-se o Projeto de Lei n.º 5282/2019 (Projeto Streck-Anastasia).
[5] DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
[6] Veja-se em: https://www.conjur.com.br/2021-fev-04/procuradores-viram-tentativa-moro-influenciar-eleicoes .
[7] RIBEIRO, Darci Guimarães. Perspectivas Epistemológicas do Direito Subjetivo. Revista do Instituto do Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, v. 3, p. 2295-2335, 2013.
[8] LOPES JR, Aury; JOSITA, Higyna. Questões polêmicas do acordo de não persecução penal. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-06/ limite-penal-questoes-polemicas-acordo-nao-persecucao-penal. Acesso em: 03 abr., 2022.